 Foto: Weissdesign/PhotoXpress Foto: Weissdesign/PhotoXpress A utilidade destes pequenos aparelhos é indiscutível, sobretudo em situações especiais. No entanto, cabe-lhe a si decidir se o seu filho está preparado para o usar Cada vez mais pequenos, leves e coloridos, não deixaram as crianças indiferentes e, por isso, é provável que o seu filho, agora com 10 anos, também já lhe tenha pedido um telemóvel. E por que não, se assim se justificar? É verdade que a nossa infância sobreviveu sem eles, mas também faz todo o sentido explorar as possibilidades que as novas tecnologias põem ao nosso dispor, sempre que verdadeiramente nos convier. É uma questão de analisar e refletir sobre as suas vantagens e desvantagens, e decidir segundo esse critério. Tudo na vida tem o seu lado bom e menos bom, não seria o telemóvel a exceção. É indiscutível a sua utilidade mesmo para uma criança, sobretudo em situações inesperadas como, por exemplo, ficar sem dinheiro para regressar da escola, perder a chave de casa ou ficar presa no elevador, já que lhe permite imediatamente pedir ajuda aos pais ou outro familiar. Tem os seus contras, é claro: para além da questão económica (preço das chamadas, das MMS...), também se fala muito no efeito das radiações emitidas pelo pequeno aparelho na saúde dos seus utilizadores. O assunto continua em estudo, mas parece existir alguma unanimidade (e alguma controvérsia também) entre a comunidade científica de que o uso continuado (e exagerado) possa de facto ser prejudicial. Por isso, aconselha-se prudência na sua utilização. Se no entanto decidir que deve proporcionar ao seu filho este meio “aliciante” de comunicar com os outros, estabeleça logo algumas regras, como por exemplo responsabilizá-lo pela boa manutenção e utilização do aparelho, dando-lhe, para isso, algumas dicas úteis. Obviamente, há que evitar comprar um modelo topo de gama e aconselha-se o sistema de pré-pagamento com cartão, na medida em que permite o controlo de custos. No que respeita aos carregamentos, seria interessante, se não mesmo pedagógico, que estes fossem suportados pelo jovem, com a sua própria mesada. Finalmente, deve dar-lhe algumas orientações sobre quando e em que circunstâncias deve ou não ter o telefone ligado (jamais nos lugares públicos como cinemas, museus, salas de aula, bibliotecas, ainda que não exista nenhum aviso expresso nesse sentido) e quantas chamadas (à exceção das eventualmente urgentes) pode efetuar diariamente. Para evitar excessos da parte dele e surpresas desagradáveis para si, informe-se previamente sobre as ofertas das várias operadoras para o mercado júnior, por exemplo, aquelas onde você mesmo pode definir um conjunto de números para os quais ele pode efetuar ligações. Dê ainda preferência a pacotes que incluam SMS gratuitas, pois este é um dos modos de comunicação preferidos dos mais jovens. Texto: Inês Mendes
0 Comments
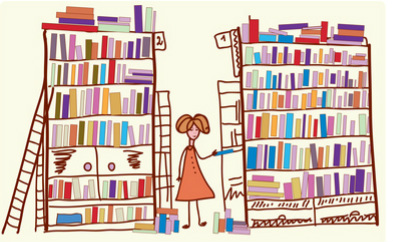 © Tasia12 - Fotolia.com Este espaço tem uma função educativa e formativa, no âmbito da promoção da leitura e das aprendizagens O Programa da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), lançado em 1996, tem como objetivo criar bibliotecas (atualmente são cerca de 2500) nas escolas, que funcionem como apoio às aprendizagens, ao desenvolvimento da literacia e à formação global dos alunos. Mais especificamente, a biblioteca escolar é um local onde são disponibilizados aos leitores os recursos necessários à leitura, ao acesso, uso e produção da informação em vários suportes: analógico, eletrónico e digital. Pretende-se que os estudantes, aqui, sejam motivados a descobrir e a alimentar o prazer de ler e de se informarem, a criar hábitos regulares de leitura, ao mesmo tempo que desenvolvem competências como pesquisar, selecionar, analisar, utilizar e criticar documentos. Desta maneira, a biblioteca escolar intenta ser um ambiente de aprendizagem permanente, através das suas práticas pedagogicamente inovadoras (atividades diferenciadas e sistemáticas) - que evoluam no tempo e se adaptem às mudanças que vão ocorrendo, nomeadamente a nível tecnológico, por exemplo -, e integradas nos projetos educativos de cada escola. Com caráter transversal aos vários níveis de ensino e por tudo o que esta diversidade pode proporcionar, constitui ainda uma mais-valia não só para a consolidação dos currículos, como para munir os seus frequentadores de ferramentas e de matéria formativa para o resto da vida, a nível de desenvolvimento pessoal e social. O seu grande desafio é, pois, fazer mais e melhores leitores, analíticos, não só consumidores de livros mas também de documentos digitais, ou seja, leitores autónomos capazes de utilizar os diferentes suportes de escrita com espírito crítico e interventivo. Uma chamada de atenção para a filosofia destas Bibliotecas: trabalham em rede, ou seja, em ambientes abertos, envolvendo-se com outras bibliotecas (escolares ou públicas) e também com a comunidade (incluindo famílias e outras instituições), o que muito contribui para as boas práticas da promoção da leitura. De referir ainda o papel dos docentes a quem proporcionam formação adequada (figura do professor bibliotecário), enquanto facilitadores e dinamizadores do funcionamento e das atividades e projetos da biblioteca. Texto: Palmira Simões  © Dxfoto.com | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos © Dxfoto.com | Stock Free Images & Dreamstime Stock Photos Dançar é humano. É uma atividade mágica, baseada na beleza da energia humana, enquanto movimento produzido pelo corpo. Envolve o pensamento, a sensibilidade e o corpo, no seu agir, e explora a natureza do indivíduo, na sua propulsão para saltar, conquistar o ar, no seu impulso para viver A dança é uma matéria de confluência de vários aspectos identitários da natureza humana que só através da prática ganham forma visível e vivencial. No contexto escolar podemos pensar a dança como um mecanismo privilegiado para estimular os alunos a conhecer formas expressivas de pensar, percecionar e compreender, a partir da atividade física de se mover. Através de um vasto conjunto de experiências de energia organizada, chegar à essência da dança. É em torno das influências sociais sobre o indivíduo que a história da dança se vai desenvolvendo, denunciando assim, sempre, as suas origens. O movimento não surge do vazio. Ele é consequência de um tecido complicado de vivências, de muitas histórias que há que continuar a contar e a transformar, dando expressão ao comportamento cultural através de um meio de comunicação não verbal. O movimento humano está fortemente impregnado de significados e emoções, mostra-nos os valores, as atitudes, as crenças de uma cultura através da produção física de acções, gestos e posturas. No domínio artístico será fácil de confirmar que o estilo, a estrutura, o conteúdo e a própria interpretação de uma peça coreográfica são, em parte, determinados pela visão de sociedade que se tem. Eis a possibilidade de aprendizagem de uma linguagem, enraizada na realidade socio-cultural, que propõe ao aluno um universo rico de comunicabilidade através da materialidade do corpo, capaz também de produzir conceitos de maior elaboração, como é o caso da abstração, elemento essencial no jogo coreográfico. Saliente-se ainda a vocação interdisciplinar da dança, veja-se, por exemplo, a sua relação ancestral com a música, que propõe contactos com o ritmo, a dinâmica e a matemática. Ou o caso das relações entre a dança e o espaço, podendo facilmente transitar para áreas como a geometria, a geografia e mesmo a arquitetura. Os elementos fundamentais que sustentam o saber da dança, enquanto forma de conhecimento, seja ele antropológico, social, psicológico, político ou artístico, e que nesta perspetiva deverão ser vividos pelos alunos em níveis progressivos de complexidade e interação, ao longo dos nove anos de escolaridade, convergem para aquilo que é a matéria intrínseca e essencial desta arte: o CORPO, como instrumento de aprendizagem e construção da linguagem coreográfica. Relação com as competências gerais Tratando-se de uma atividade profundamente enraizada na história do homem, dançar propicia ao aluno um quadro de referências cognitivas, culturais, sensoriais e estéticas que contribuem para uma melhor compreensão do mundo. A dança cumpre funções que, na essência, permanecem intactas desde o princípio dos tempos, sejam elas funções rituais, mágicas, comunicacionais, diplomáticas, lúdicas, estéticas ou, simplesmente, como fonte de felicidade. Porque está inscrita na história e no gesto humano, a dança pode ter um papel importante na apropriação das competências gerais, definidas para a educação básica, uma vez que elas têm como centro o aluno, o pensamento, a sociedade e a cultura, numa interdependência muito familiar à natureza e à linguagem da dança. O ensino da Dança, nesta perspetiva, proporciona a aquisição de um vocabulário de movimento e de um novo quadro de referências espácio-temporais. Estes, transformar-se-ão em instrumentos de comunicação, para que o aluno possa abordar e pesquisar saberes culturais, científicos e tecnológicos, presentes nas matérias curriculares, assim como em situações e problemas do quotidiano, através da linguagem da dança. A competência em dança implica, desde logo, a aptidão para integrar e traduzir diferentes linguagens, através do movimento. Uma vez sedimentado o conhecimento do vocabulário de movimento essencial, o aluno poderá chamar ao seu trabalho coreográfico linguagens específicas de outras áreas do saber cultural, científico e tecnológico. Um exemplo possível: fazer um vídeo-dança sobre a movimentação das células. No desenvolvimento das competências específicas em Dança coexistem três grandes áreas de acção: Interpretação, Composição e Apreciação. Nesta última, um trabalho de análise e discussão coletiva do movimento, assim como a mostra de filmes e a pesquisa bibliográfica, e em suportes eletrónicos, de informação sobre dança, conduzirão o aluno a um discurso, oral e escrito, crítico e fundamentado, sempre norteado pelo correto uso da língua portuguesa. O conhecimento de línguas estrangeiras revela-se essencial para a pesquisa de informação sobre dança, uma vez que a grande maioria da bibliografia e documentação videográfica, bem como quase toda a informação disponível através da Internet, é apresentada em línguas estrangeiras. A terminologia própria da dança pode ser um elemento de motivação para a aprendizagem de línguas estrangeiras e é, seguramente, veiculadora das mesmas. Existe, nas competências aqui definidas, uma filosofia fundeada num quadro de respeito e valorização da individualidade. A diversidade de leituras do mundo, bem como os diferentes recursos, motivações e competências, que se encontram numa turma de jovens bailarinos, constituem um terreno propício à percepção e troca de metodologias, rotinas, técnicas, "truques", conselhos e à sua experimentação. Esta dimensão empírica, associada ao conhecimento técnico e à informação sobre dança, é fator determinante na consolidação de uma metodologia ou de uma opção estética própria. Um ensino enraizado, como se pretende, numa riqueza de recursos quotidianamente oferecidos ao aluno, constitui terreno de experimentação e treino para aprender a selecionar e organizar informação, de acordo com os problemas coreográficos em estudo e num quadro de consciência em relação aos recursos e motivações pessoais. A condição performativa da dança implica a necessidade de tomar decisões rápidas e adequadas ao contexto artístico em causa. Na improvisação, e no imprevisto que sempre rodeia as atividades performativas, é fulcral saber analisar as situações narrativas, técnicas e estéticas em jogo e ser capaz de antecipar os efeitos do sua acção, com vista a uma resolução criativa do problema. Faz parte do quotidiano das aulas de Dança a invenção e interpretação de curtos traçados coreográficos, que apontam para a capacidade crescente de intervir autonomamente em projetos coreográficos de algum porte. A dança é, em si, uma atividade corporativa. Daí que, quotidianamente, surjam tarefas e projetos de conjunto que exercitam o aluno na procura de uma gestão eficaz dos espaços interpessoais, com respeito pelo movimento próprio e alheio. A prática da dança implica uma atitude de disciplina física, que mantém, necessariamente, o corpo em forma. Por outro lado, obriga a uma consciência e responsabilização, em relação a si próprio e aos outros, no espaço de ação. Através dela é possível fomentar a valorização da ecologia do corpo e do ambiente, partindo do estudo de várias temáticas e do consequente trabalho coreográfico e interpretativo. Por exemplo: a respiração, o ar e os elementos constrangedores dessa relação. Experiências de aprendizagem O contacto com a dança como arte é essencial para criar referências e pontos de impacto afetivos e estéticos. A valorização de uma inteligência emocional e sensorial, produtoras de outras abstrações, conduzem o aluno a um conhecimento mais profundo do mundo, através da linguagem e da magia da dança. É de salientar a preocupação em promover a criação de uma primeira "cultura coreográfica" e também de hábitos de frequência de espectáculos, com vista ao desenvolvimento da apreciação estética e dacapacidade crítica, face aos vários aspetos de uma obra performativa. Para que estas competências sejam efetivamente desenvolvidas pelo aluno é necessário que a escola lhe proporcione: • Idas ao teatro para assistência a espectáculos; • Visitas de bailarinos, com formações diversas, à escola; • Contacto direto com intérpretes, criadores e todos os que estão ligados à produção de espetáculos de dança; • Visionamento de vídeos de dança, de vários estilos e origens culturais; • Acesso a uma bibliografia estimulante que apoie o trabalho a desenvolver; • Criação e construção, do ponto de vista artístico e de produção, de um espectáculo onde a dança tenha um papel preponderante; • Oportunidade de trabalhar a dança, estabelecendo relações com as restantes áreas curriculares. Competências específicas As competências que todos os alunos devem desenvolver, em Dança, ao longo do ensino básico, fundamentam-se nos seguintes aspectos: - Compreensão da dança enquanto forma de arte. - Desenvolvimento de experiências e capacidades na área da interpretação (agir e dançar). - Desenvolvimento de experiências e capacidades na área da composição (imaginar e coreografar). - A aptidão para analisar e apreciar a dança através da observação e discussão de materiais coreográficos, dentro e fora da escola. As competências específicas da disciplina de Dança organizam-se em torno de quatro temas referenciais, os elementos da dança (CORPO, ESPAÇO, ENERGIA e RELAÇÃO). Estes elementos serão desenvolvidos ao longo dos três ciclos, através de um aprofundamento progressivo, devendo conduzir a um conhecimento elementar do movimento humano, tendo em vista uma ideia de dança globalizante, de aprendizagem rigorosa, mas também acessível a todos. O aluno competente em Dança, no final do ensino básico, deverá saber reconhecer e analisar estes quatro temas fundamentais, para poder produzir soluções coreográficas criativas e conducentes a um discurso coreográfico próprio: - O corpo? o quê? Que movimentos pode o corpo fazer? - O espaço ? onde? Onde pode o corpo dançar? - A energia ? como? Que modos, qualidades ou dinâmicas pode o corpo descobrir e assumir? - A relação ? com quem, com quê e em que ambiência? Como é que o corpo se relaciona consigo próprio quando dança sozinho, como se relaciona com o corpo ou corpos de outros quando dança em grupo? Como pode também relacionar-se com coisas e objetos? Como se deixa influenciar por ambientes diversos? Será que estes introduzem outros modos de relação com o seu corpo e consigo próprio? 1.º ciclo - Conhecer e vivenciar os elementos da dança. - Corpo e o seu mapa. - Espaço e suas grandes direções. - Energia e as qualidades do movimento. - Relação com os outros, objectos e ambientes. 2.º ciclo - Estabelecer relações entre os elementos da dança (corpo, espaço energia e relação) aprofundando conhecimentos apreendidos anteriormente. - Desenvolver experiências interdisciplinares com base em problemas da atualidade mundial, nacional e pessoal. - Alargar o âmbito vivencial da dança, cruzando esse conhecimento com o de outras áreas curriculares. Fonte: Currículo Nacional do Ensino Básico publicado pelo Ministério da Educação.  FreeDigitalPhotos.net As competências artístico-musicais desenvolvem-se através de processos diversificados de apropriação de sentidos, de técnicas, de experiências de reprodução, de criação e reflexão, de acordo com os níveis de desenvolvimento das crianças e dos jovens A música é um elemento importante na construção de outros olhares e sentidos, em relação ao saber e às competências, sempre individuais e transitórias, porque se situa entre pólos aparentemente opostos e contraditórios, entre razão e intuição, racionalidade e emoção, simplicidade e complexidade, entre pas-sado, presente e futuro. As competências específicas estão pensadas no sentido de providenciar práticas artísticas diferen-ciadas e adequadas aos diferentes contextos onde se exerce a acção educativa, de forma a possibilitar a construção e o desenvolvimento da literacia musical em nove grandes dimensões: - Desenvolvimento do pensamento e imaginação musical, isto é, a capacidade de imaginar e relacionar sons. - Domínio de práticas vocais e instrumentais diferenciadas. - Composição, orquestração e improvisação em diferentes estilos e géneros musicais. - Compreensão e apropriação de diferentes códigos e convenções que constituem as especificidades dos diferentes universos musicais e da poética musical em geral. - Apreciação, discriminação e sensibilidade sonora e musical crítica, fundamentada e contextualizada em diferentes estilos e géneros musicais. - Compreensão e criação de diferentes tipos de espectáculos musicais em interação com outras formas artísticas. - Conhecimento e valorização do património artístico-musical nacional e internacional. - Valorização de diferentes tipos de ideias e de produção musical de acordo com a ética do direito autoral e o respeito pelas identidades socioculturais. - Reconhecimento do papel dos artistas como pensadores e criadores que, com os seus olhares, contribuíram e contribuem para a compreensão de diferentes aspectos da vida quotidiana e da história social e cultural. Estas dimensões consubstanciam-se em experiências pedagógicas e musicais diversificadas, baseadas na vivência e na experimentação artística e estética situada em diferentes épocas, tipologias e culturas musicais do passado e do presente. Neste sentido, as competências específicas propostas e a desenvolver constroem-se de forma a potenciar, através da prática artística, a compreensão e as interpelações entre a música na escola, na sala de aula e as músicas presentes nos quotidianos dos alunos e das comunidades. Relação com as competências gerais As competências específicas para a música na escolaridade básica têm como centro a pessoa da criança e do jovem, o pensamento, a sociedade e a cultura, numa rede de dependências e interdependências possibilitadoras da construção de um pensamento complexo. Neste sentido, a música, como construção social e como cultura, pode dar um conjunto de contributos para a consolidação das competências gerais que o aluno deverá evidenciar no final do ensino básico, que se podem sintetizar no seguinte: - O pensamento artístico-musical, nas suas múltiplas vertentes, implica a mobilização de saberes culturais, científicos e tecnológicos. É através desta perspectiva relacional e integradora que os problemas e situações musicais são abordados e vividos. São diversos os instrumentos, as técnicas, as formas e as metodologias que se entrecruzam na prática musical. Partindo da observação e questionamento da realidade, com base nas questões emergentes do quotidiano e nas histórias individuais, procura-se fomentar uma cultura de participação, através de projecos de natureza interdisciplinar. - Consoante os períodos históricos e os diferentes estilos e géneros musicais existem códigos, convenções e vocabulários específicos dos domínios culturais, científicos e tecnológicos que interagem na compreensão e resolução de determinados desafios criativos, interpretativos e estéticos. Também se estimula a criação de novas linguagens ou a improvisação sobre linguagens conhecidas, bem como a sua seleção e articulação para a realização do trabalho, sua comunicação e fundamentação. - A prática musical propicia a aquisição de uma terminologia específica, que contribui para enriquecer o vocabulário geral do aluno e que deverá ser enquadrada na perspetiva de um uso correto da língua portuguesa. As apreciações críticas, orais e escritas, que os alunos são convidados a fazer no âmbito da conceção, apresentação e avaliação da produção musical própria e dos outros, devem ser rodeadas do maior rigor, devendo constituir momentos de comunicação efetiva e personalizada. Métrica, rima, entoação, respiração, colocação de voz, acentuação, intensidade, timbre, expressividade, ritmo, fazem parte de uma vasta lista de conceitos e conteúdos presentes na prática musical. A apropriação destes conceitos através da música pode contribuir para um melhor entendimento da estrutura da língua portuguesa e, ao mesmo tempo, armam o aluno com recursos no domínio da qualidade, da eficácia e da criatividade presentes na comunicação. - O vocabulário específico das culturas musicais inclui inúmeras palavras em línguas estrangeiras que ajudam a estabelecer uma relação de familiaridade com as diferentes línguas e de consciencialização do seu valor patrimonial. O estudo de canções e peças musicais em línguas estrangeiras é um bom exemplo de como a música pode veicular a motivação e o treino para o uso de diferentes línguas, para além de facilitar a comunicação, e em particular, as trocas culturais. Para a pesquisa musical em vários suportes, nomeadamente no informático, é imprescindível o conhecimento de línguas estrangeiras, uma vez que a grande maioria da informação disponível é apresentada em línguas que não o português. - Uma das características distintivas das artes do espetáculo é o facto de se desenrolarem em tempo real. Esta característica envolve, entre muitas outras, uma dimensão tripla: criar, produzir e controlar emoções, sempre singulares e transitórias. Neste sentido, a adoção de metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem, de acordo com os objetivos visados, afigura-se uma estratégia fundamental e adequada na educação e formação no domínio artístico. - A criação, interpretação e audição musicais são campos onde a pesquisa, seleção e organização da informação aparecem como aspetos relevantes para explicitar a razão de determinada opção artístico-musical. É através desta dinâmica que a informação mobilizada se transforma em saber e conhecimento em ação. - Nos diferentes tipos de realização musical, a resolução de determinados problemas e a tomada de decisões técnicas, estéticas e comunicacionais são elementos estruturantes e multidimensionais que caracterizam o gesto artístico. O facto de a música acontecer em tempo real, implica, por parte de quem a faz, uma capacidade de tomar decisões rápidas e coerentes, tanto sob o ponto de vista técnico como artístico. - As práticas musicais favorecem espaços de construção de singularidades, inovações, mudanças e adaptações a novos cenários, através do desenvolvimento da autonomia e do pensamento divergente. - As crianças e os jovens, como seres sociais, movimentam-se em diferentes contextos pelos quais são influenciados e sobre os quais exercem influências. A educação e formação artístico-musical é um campo potencial para a cooperação com outros em tarefas e projetos comuns, através de práticas individuais e coletivas, corporizadas em diferentes tipos de organizações: da escola às "bandas de garagem", do recital ao espetáculo multidisciplinar. - As práticas vocais e instrumentais, de naturezas culturais diversificadas, são formas de percepção e consciencialização do corpo, numa perspetiva da sua relação com o espaço, o tempo e os outros, com um enfoque especial no respeito pela partilha de contextos comuns. Por outro lado, o envolvimento em práticas artísticas diferenciadas propicia mecanismos de bem-estar e de qualidade de vida. Experiências de aprendizagem Ao longo da educação básica todos as crianças e jovens devem ter oportunidade de experienciar aprendizagens diversificadas, em contextos formais e não formais, que visem contribuir para o desenvolvimento da literacia musical e para o pleno desenvolvimento das suas identidades pessoais e sociais: - Experienciar diferentes tipos de instrumentos e culturas musicais Ao longo do seu percurso formativo, as crianças e os jovens devem ter a possibilidade de aprender a cantar segundo diferentes tipologias musicais, da música étnica à erudita, do pop ao jazz, entre outras, e a tocar, desde instrumentos populares portugueses a instrumentos electrónicos, como sintetizadores, de acordo com o seu desenvolvimento pessoal. - Explorar diferentes processos comunicacionais, formas e técnicas de criação musical O desenvolvimento da compreensão das formas como os diferentes elementos sonoros e musicais interagem e se organizam na criação de diferentes tipos de obras musicais é um dos aspetos centrais da literacia musical. Os princípios composicionais são instrumentos que ajudam à organização dos sons e das ideias, permitindo a coesão e a singularidade de cada obra. A compreensão e a manipulação destes princípios possibilita o entendimento de como os diferentes compositores os utilizam para a criação artística bem como as formas pessoais de expressão e comunicação. - Produzir e realizar espetáculos diversificados Como arte performativa a música adquire sentido no âmbito da realização de práticas artísticas em diferentes contextos e espaços, com fins, pressupostos e públicos diferenciados. Pela sua natureza, a realização de projectos artísticos diversificados constitui terreno propício para o desenvolvimento de actividades de trabalho interdisciplinar, individual e em grupo. - Assistir a diferentes tipos de espetáculos A participação, como público, em espetáculos artístico-musicais de diferentes estilos e orientações estéticas, como forma de desenvolver, a partir da escola, a apetência para assistir a espectáculos, afigura-se um dos aspetos centrais na diversificação dos contextos de aprendizagem. - Utilizar as tecnologias da informação e comunicação Os diferentes programas educativos e formativos relacionados com a criação, edição, gravação, notação e tratamento do som, assim como os recursos da rede da Internet, são instrumentos que devem fazer parte dos quotidianos educativos, formativos e artísticos. - Contactar com o património artístico-musical O contacto directo com o património artístico-musical nacional, regional e local, bem como internacional, através de visitas de trabalho e de estudo com caráter de recolha, registo, exploração e avaliação dos dados, afigura-se um aspeto relevante para a compreensão e valorização deste tipo de património. - Realizar intercâmbios entre escolas e instituições As trocas entre estudantes de diferentes comunidades, culturas, religiões e etnias possibilitam o conhecimento recíproco dos respetivos patrimónios artísticos, musicais e culturais. Também os intercâmbios com instituições sociais, culturais e de recreio, podem contribuir não só para o desenvolvimento de competências sociais como também para o estabelecimento de redes de parcerias e para a dinamização cultural da escola. - Explorar as conexões com outras artes e áreas do conhecimento Um dos elementos essenciais na formação artístico-musical é a compreensão das relações entre a música e os diferentes contextos, bem como as formas diversificadas de expressão cultural, científica e artística. A articulação vertical e horizontal com outras áreas do conhecimento pode contribuir não só para a transferência de saberes como também para uma compreensão mais profunda das dimensões artísticas. - Desenvolver projetos de investigação Numa atividade investigativa pode explorar-se um determinado tema, situação, problema em aberto. Qualquer tema relacionado com a música pode ser objeto de atividades investigativas. No âmbito da educação e formação no ensino básico, as histórias das músicas e dos músicos, por exemplo, são temas privilegiados para estas actividades. Competências específicas As competências específicas a desenvolver na disciplina de Educação Musical são aqui apresentadas em torno de quatro grandes organizadores: - Interpretação e comunicação. - Criação e experimentação. - Perceção sonora e musical. - Culturas musicais nos contextos. No entanto, é essencial garantir que as aprendizagens conducentes à construção de qualquer competência se devem basear em acções provenientes dos três grandes domínios da prática musical - Composição, Audição e Interpretação. A apropriação dos conceitos musicais, vocabulário e terminologias musicais bem como o desenvolvimento de práticas vocais e instrumentais só podem ser considerados efetivos se assentarem neste princípio de base. Interpretação e comunicação No final do ensino básico, o aluno: - Canta sozinho e em grupo, com precisão técnico?artística, peças de diferentes géneros estilos e tipologias musicais. - Toca sozinho e em grupo pelo menos um instrumento musical utilizando técnicas instrumentais e interpretativas diferenciadas de acordo com a tipologia musical. - Prepara, apresenta e dirige pequenas peças e/ou espectáculos musicais de âmbitos diferenciados. - Participa, como intérprete, autor e produtor em recitais e concertos com diferentes pressupostos comunicacionais e estéticos e para públicos diferenciados. - Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. - Investiga e avalia diferentes tipos de interpretações utilizando vocabulário apropriado. Tipo de situações de aprendizagem 1.º ciclo - Canta as suas músicas e as dos outros, utilizando diversas técnicas vocais simples. - Toca as suas músicas e as dos outros, utilizando instrumentos acústicos, electrónicos, convencionais e não convencionais. - Apresenta publicamente peças musicais, utilizando instrumentos e técnicas interpretativas simples. - Explora diferentes códigos e convenções musicais na música gravada e ao vivo. - Responde a conceitos, códigos e convenções musicais na música gravada e ao vivo. 2.º Ciclo - Prepara, dirige, apresenta e avalia peças musicais diferenciadas, atendendo à diversidade de funções e pressupostos. - Ensaia e apresenta publicamente interpretações individuais e em grupo de peças musicais em géneros e formas contrastantes de acordo com as intenções e características próprias de cada autor, estilo e género. - Analisa diferentes interpretações das mesmas ideias, estruturas e peças musicais em estilos e géneros variados. Criação e experimentação No final do ensino básico, o aluno: - Compõe, arranja e apresenta publicamente peças musicais com níveis de complexidade diferentes, utilizando técnicas vocais e instrumentais e tecnologias diversificadas. - Improvisa melodias, variações e acompanhamentos utilizando diferentes vozes e instrumentos. - Manipula os sons através de diferentes tecnologias acústicas e eletrónicas. - Grava as suas criações e improvisações musicais. - Investiga processos de criação musical, tendo em conta pressupostos, técnicas, estilos, temáticas comunicacionais e estéticas diferenciadas. Tipo de situações de aprendizagem 1.º ciclo - Seleciona e organiza diferentes tipos de materiais sonoros para expressar determinadas ideias, sentimentos e atmosferas, utilizando estruturas e recursos técnico-artísticos elementares, partindo da sua experiência e imaginação. - Explora ideias sonoras e musicais partindo de determinados estímulos e temáticas. - Regista em suportes áudio as criações realizadas, para avaliação e aperfeiçoamento. - Inventa, cria e regista pequenas composições e acompanhamentos simples com aumento progressivo de segurança, imaginação e controlo. - Manipula conceitos, códigos, convenções e símbolos utilizando instrumentos acústicos e eletrónicos, a voz e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para a criação de pequenas peças musicais, partindo de determinadas formas e estruturas de organização sonora e musical. 2.º ciclo - Utiliza diferentes conceitos, códigos e convenções para a criação de pequenas peças e improvisações musicais. - Utiliza diferentes estruturas e tecnologias para desenvolver a composição e a improvisação de acordo com determinados fins. - Apresenta publicamente e regista em diferentes tipos de suportes as criações realizadas, para avaliação, aperfeiçoamento e manipulação técnico-artística e comunicacional. - Manipula conceitos, códigos, convenções e técnicas instrumentais e vocais, bem como as TIC, para criar e arranjar músicas em diferentes estilos e géneros contrastantes. Perceção sonora e musical No final do ensino básico, o aluno: - Compreende como se utilizam e articulam os diferentes conceitos, códigos e convenções e técnicas artísticas constituintes das diferentes culturas musicais. - Analisa obras vocais, instrumentais e eletrónicas de diferentes culturas musicais utilizando vocabulário apropriado e de complexidade diversificada. - Descreve, auditivamente, estruturas e modos de organização sonora de diferentes géneros, estilos e culturas musicais através de vocabulário apropriado. - Lê e escreve em notação convencional e não convencional diferentes tipologias musicais, recorrendo também às Tecnologias da Informação e Comunicação. - Investiga diferentes modos de percepção e representação sonora. Tipo de situações de aprendizagem 1.º ciclo - Explora e responde aos elementos básicos da música. - Identifica e explora a qualidade dos sons. - Explora e descreve técnicas simples de organização e estruturação sonora e musical. - Identifica auditivamente mudanças rítmicas, melódicas e harmónicas. - Utiliza vocabulário e simbologias simples e apropriadas para descrever e comparar diferentes tipos de sons e peças musicais de diferentes estilos e géneros. 2.º ciclo - Reconhece um âmbito de padrões, estruturas, efeitos e qualidades dos sons. - Identifica auditivamente, escreve e transcreve elementos e estruturas musicais, utilizando tecnologias apropriadas. - Identifica e utiliza diferentes tipos de progressões harmónicas. - Completa uma música pré-existente, vocal e/ou instrumental. - Transcreve e toca de ouvido diferentes peças musicais com estilos diferenciados a uma ou duas vozes. - Identifica auditivamente e descreve diferentes tipos de opções interpretativas. Culturas musicais nos contextos No final do ensino básico, o aluno: - Compreende a música como construção social e como cultura em diferentes períodos históricos e contextos diversificados. - Reconhece os diferentes tipos de funções que a música desempenha nas comunidades. - Compreende e valoriza o fenómeno musical como património, fator identitário e de desenvolvimento social, económico e cultural. - Compreende as diferentes relações e interdependências entre a música, as outras artes e áreas do conhecimento. - Investiga os modos como as sociedades contemporâneas se relacionam com a música. Tipo de situações de aprendizagem 1.º ciclo - Reconhece a música como parte do quotidiano e as diferentes funções que ela desempenha. - Identifica diferentes culturas musicais e os contextos onde se inserem. - Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando vocabulário simples e apropriado. 2.º ciclo - Identifica e compara estilos e géneros musicais tendo em conta os enquadramentos socioculturais do passado e do presente. - Investiga funções e significados da música no contexto das sociedades contemporâneas. - Relaciona a música com as outras artes e áreas do saber e do conhecimento em contextos do passado e do presente. - Produz material escrito, audiovisual e multimédia ou outro, utilizando vocabulário adequado. - Troca experiências com músicos e instituições musicais. Fonte: Currículo Nacional do Ensino Básico publicado pelo Ministério da Educação.  © Gorilla - Fotolia.com © Gorilla - Fotolia.com A educação artística é essencial para o crescimento intelectual, social, físico e emocional das crianças e jovens. Sendo a atividade dramática fortemente globalizadora, contemplando as dimensões plástica, sonora, da palavra e do movimento em acção,torna-se uma área privilegiada na educação artística Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais (Ministério da Educação), a atividade dramática é uma prática de grupo que se desenvolve a partir dos conhecimentos, experiências e vivências individuais que os alunos detêm e que pode propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens através da exploração de conteúdos dramáticos. Isto confere-lhe um estatuto privilegiado de elo de ligação entre a escola, a família e o meio, condição essencial para que a aprendizagem ganhe novos sentidos e se reflita no prazer de aprender. Nesta ligação ao exterior, as atividades dramáticas podem ainda funcionar como promotoras de uma presença mais ativa da família na vida escolar, através de uma participação efetiva na produção de projetos, ou apenas estando, vendo e acompanhando as atividades desenvolvidas. Esta participação encoraja uma atitude mais positiva face ao teatro, à escola e à vida familiar. As atividades dramáticas proporcionam oportunidades para alargar a experiência de vida dos alunos e enriquecer as suas capacidades de decisão e escolha. Regendo-se por metodologias essencialmente cooperativas, que promovem a colaboração e a interdependência no seio do grupo, são susceptíveis de gerar a reflexão sobre valores e atitudes. Proporcionam ainda formas e meios expressivos para explorar conteúdos e temas de aprendizagem que podem estar articulados com outras disciplinas do currículo escolar. Através de situações semelhantes à vida real, as práticas dramáticas fornecem processos catalisadores que podem motivar os alunos para o prosseguimento de investigação e aprendizagens na sala de aula e fora dela. As práticas dramáticas desenvolvem competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, culturais e cognitivas, não só ao nível dos seus saberes específicos, mas também ao nível da mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras áreas do conhecimento. O caráter lúdico do jogo dramático responde a necessidades primordiais do ser humano - a da exteriorização de si no contexto de comunicação e a da busca do prazer na construção da aprendizagem. O jogo permite ainda assimilar mais experiências e dessa forma alargar a compreensão do mundo. Assim, o jogo desempenha um papel importante, mas por vezes desvalorizado, ao longo de todo o processo de crescimento. Por último, é de referir a importância de se contemplar nestas atividades a criação e valorização das práticas teatrais como Arte, desenvolvendo a apreciação de diferentes linguagens artísticas e valorizando criticamente criações artísticas e teatrais de diferentes estilos e origens culturais. Relação com as competências gerais A Expressão Dramática/Teatro contribui para o desenvolvimento das competências gerais, a serem gradualmente apreendidas ao longo da educação básica, na medida em que, em todas as actividades próprias desta área, se procura promover no aluno hábitos e oportunidades de: - Questionar a realidade a partir de improvisações, tendo como suporte as vivências pessoais, a observação e interpretação do mundo e os conhecimentos do grupo. - Utilizar a linguagem corporal e vocal para expressar sentimentos e ideias. - Utilizar saberes tecnológicos ligados à luz, som, imagem e formas plásticas como produtores de sinais enriquecedores da linguagem teatral. - Explorar a dimensão da palavra enquanto elemento fundamental da teatralidade na sua vertente escrita, lida, dita, falada e cantada. - Enriquecer o uso da palavra pelo desenvolvimento dos aspectos ligados à dicção, sonoridade, ritmo, intenção e interpretação. - Estimular a reflexão individual e coletiva, escrita e oral, como forma de desenvolvimento de um discurso próprio. - Valorizar a compreensão de línguas estrangeiras como um veículo de acesso à informação, nomeadamente nos suportes informáticos e novas tecnologias multimédia, à comunicação entre pessoas de culturas e origens diferentes e, mesmo, como elemento enriquecedor da representação e do jogo dramático. - Estimular a autonomia de pesquisa geradora de formas e exercícios teatrais. - Adequar as metodologias e as técnicas à dinâmica do grupo de trabalho. - Estimular a reflexão coletiva sobre o trabalho em curso. - Estimular a diversificação das fontes de pesquisa. - Estimular a adaptação a diferentes grupos de trabalho. - Incentivar a pesquisa e a seleção do material adequado para a construção de personagens, cenas e projetos teatrais. - Ser capaz de tomar decisões rápidas e adequadas ao contexto artístico em causa, em situação performativa. - Analisar as situações dramáticas em jogo e ser capaz de antecipar os efeitos do seu desenvolvimento, com vista a uma resolução criativa do problema. - Desenvolver a espontaneidade e a criatividade dramática individual. - Incentivar a responsabilização individual no seio do grupo, e do grupo no grupo alargado. - Dividir um projeto de trabalho em tarefas a desenvolver por pequenos grupos (cenários, figurinos, produção, som, luz e interpretação). - Trabalhar a dinâmica de grupo a partir da ação simultânea, em grupo alargado, em pequeno grupo e a pares. - Desenvolver a postura, flexibilidade e mobilidade corporal. - Desenvolver a consciencialização e o domínio respiratório e vocal. - Promover o respeito pelas regras estabelecidas e adequadas a cada actividade. - Estimular o respeito pela diversidade cultural. Experiências de aprendizagem Nas atividades dramáticas os alunos deverão desenvolver uma série de competências, físicas, pessoais, relacionais, cognitivas, técnicas, de forma que possam expressar-se criativamente, improvisando e interpretando pela forma dramática. No processo de aprendizagem os alunos devem desenvolver continuamente a utilização do corpo, voz e imaginação enquanto veículos de expressão e comunicação. Procura-se desenvolver competências individuais alicerçadas e sustentadas no seio do desenvolvimento do grupo, através de actividades de: - Exploração dos instrumentos expressivos: corpo, voz, espaço. - Exploração temática pela improvisação. - Criação de dramatizações. - Pesquisa ativa e criativa baseada na interação com pessoas, espaços, vivências diferenciadas que permitam o aprofundamento da criação dramática. - Pesquisa documental (bibliográfica, videográfica, sonora...) que estimule o crescimento criativo. - Exploração das potencialidades interdisciplinares na criação de um projeto dramático. - Alargamento de referências através da assistência a espectáculos. - Concretização de projetos com público. - Promoção e participação em iniciativas de intercâmbio de experiências, tais como mostras, encontros ou festivais de teatro com e para jovens. Competências específicas 1.º ciclo - Relacionar-se e comunicar com os outros. - Explorar diferentes formas e atitudes corporais. - Explorar maneiras pessoais de desenvolver o movimento. - Explorar diferentes tipos de emissão sonora. - Aliar gestos e movimentos ao som. - Reconhecer e reproduzir sonoridades. - Explorar, individual e coletivamente, diferentes níveis e direções no espaço. - Utilizar, recriar e adaptar o espaço circundante. - Orientar-se no espaço através de referências visuais, auditivas e táteis. - Utilizar e transformar o objeto, através da imaginação. - Explorar o uso de máscaras, fantoches e marionetas. - Mimar atitudes, gestos e ações. - Realizar improvisações e dramatizações a partir de histórias ou situações simples. - Participar na criação oral de histórias. - Observar, escutar e apreciar o desempenho dos outros. 2.º ciclo (As competências a seguir enunciadas poderão ser desenvolvidas no âmbito das várias disciplinas, projetos educativos e clubes que se proponham utilizar as práticas dramáticas, dado estas não estarem contempladas como disciplina no 2.º ciclo). - Utilizar o corpo e a voz na construção de personagens. - Construir histórias para serem improvisadas. - Transformar formas narrativas em formas dramáticas. - Explorar criativamente diferentes formas de dizer textos. - Investigar e improvisar a partir de temas provenientes de outras áreas do conhecimento. - Inventar, construir e utilizar adereços e cenários. - Identificar e valorizar o teatro entre outras formas artísticas.  Hoje e cada vez mais é da maior pertinência “Formar para um uso crítico e esclarecido dos meios de comunicação”, como é evidenciado no portal Literacia Mediática. Os benefícios são concretos e positivos Projetos de Educação e Leitura que envolvam a Imprensa permitem trabalhar diversas competências, entre as principais a Educação para os Media, a Educação para a Cidadania, a leitura e a escrita, o espírito crítico e a literacia, para além de dar a conhecer, principalmente às crianças que não tenham tido contactos anteriores com jornais e revistas, este tipo de suporte de leitura. Por outro lado, a exploração de um jornal, cujos temas são vastos, permite não só a análise da sua estrutura e conteúdo, como ainda abordagens multidisciplinares, não apenas relacionadas com a Língua Portuguesa como também a nível do Estudo do Meio e até da Matemática. Na verdade, nos dias de hoje, na era da globalização, em que a informação e a “reconstrução” da realidade por parte da comunicação social corre à velocidade da luz e nem sempre da forma mais ética, é importante preparar crianças e jovens para uma melhor reflexão sobre os media, tendo em conta que exercem neles uma cada vez maior influência na conceção e compreensão do mundo que os rodeia. O despertar para a importância dos Media na Educação não é de agora, sendo um assunto que tem vindo a lume principalmente ao longo das últimas décadas. Nos anos 80, a Associação da Imprensa Diária Portuguesa já havia avançado com uma campanha de sensibilização para a leitura de jornais destinada aos jovens, intitulada “Ler jornais é saber mais”. O programa “Público na Escola”, lançado em 1990 pelo jornal “Público”, também tinha o propósito, como pode ler-se no seu “Livro de Estilo”, de “contribuir para fomentar uma relação mais próxima entre a escola, a imprensa e os media em geral”. Em 2002, Jacques Gonnet referia a necessidade de se pensarem novos princípios de ensino, cuja tónica deveriam ser as motivações e interesses das crianças. Segundo este autor, haveria que planificar atividades pedagógicas que tivessem ligação com as experiências de vida dos mais novos, atividades essas onde os media deveriam estar incluídos. Mais recentemente, em abril de 2011, a Declaração de Braga - “Literacia dos Media” emergiu do 1º Congresso Nacional sobre Literacia, Media e Cidadania, tendo sido assinada por representantes da UNESCO e outras entidades, entre elas o Ministério da Educação, e em cujo Ponto 1 é realçado o facto de “A paisagem mediática tem conhecido nas últimas décadas transformações extraordinárias, com impactos significativos na educação, na cultura e na economia, afetando a vida quotidiana de todos os cidadãos”. Entre os seus vários objetivos e propostas encontra-se a exploração do entrosamento entre a literacia dos media e o currículo escolar. Posto isto, todos os programas de intervenção em educação e leitura que abranjam a Imprensa são extremamente úteis não só para a promoção da leitura, como da literacia, entre outras competências já referidas, com destaque para a construção de um conhecimento reflexivo sobre a realidade, que deve ser impulsionado desde a infância. Texto: Palmira Simões Imagem: © artenot - Fotolia.com  Portugal não foge à regra. A sociedade portuguesa tem vindo a sofrer grandes transformações sob a batuta das TIC, acompanhando a escalada destas a nível global Na última década, e segundo a UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, o desenvolvimento da Sociedade de informação e do conhecimento tornou-se cada vez mais transversal, penetrando profundamente na generalidade das organizações e alterando modos de vida e de trabalho, correspondendo à crescente apropriação social, económica e cultural das tecnologias da informação e da comunicação. Assim, e resumindo, pode dizer-se que para a sociedade portuguesa, a sociedade digital, da informação e do conhecimento é sinónimo de transformação e progresso. O empenho político nesta matéria tem sido visível mas múltiplas ações e programas encetados a nível governamental, cujos objetivos visam sobretudo: - Promover a criação e benefício social de novo conhecimento e tecnologia em áreas emergentes com elevado potencial para a criação de riqueza e emprego e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas; - Promover a expansão e o reforço de redes de colaboração entre pessoas e organizações estimulando a produtividade, a criatividade e a excelência; fomentar a internacionalização de criação e transferência de conhecimento e tecnologia, e de conceção e acompanhamento das políticas para a Sociedade da Informação e do Conhecimento; - Assegurar a sua observação objetiva e transparente, bem como a prospetiva da sua evolução. Assim, e em termos concretos, os efeitos das TIC na sociedade portuguesa têm vindo a: transformar a educação;; promover a inclusão social; simplificar e a melhorar os serviços públicos; melhorar acessos e a promover a coesão social; disponibilizar novas ferramentas de TIC para investigação científica; contribuir para construir redes internacionais de conhecimento. Sociedade digital: o que é UM SLOGAN. O investigador espanhol Jose Manuel Perez Tornero compara a designação “sociedade digital” a um slogan, transportando-a para o mundo dos mitos, dos objetos de desejo, ao mesmo tempo que a afasta da realidade empírica. UM MITO. Tendo em conta que o mito representa uma realidade simbólica e deslumbrante, atrativa e respeitável, objeto de culto. UMA FORÇA TRANSFORMADORA. Modos de vida tradicionais cederam profundamente ao poder transformador da dita sociedade digital, a vários níveis: económicos, laborais, educacionais… e até da personalidade dos indivíduos. UMA IDEIA-VALOR. Capaz de concertar a ação de diversos sectores, dos políticos aos sociológicos, dos económicos aos tecnológicos. Os jovens e a Internet De acordo com a análise que os investigadores José Carlos Abrantes e Jacques Piette fazem, em "Ecrãs em Mudança", das características do uso da Internet pelos jovens em geral, podem tirar-se as seguintes conclusões: - Acessos mais fáceis, mais disseminados e com maior frequência; - Características dominantes dos internautas, com variações, sem existir por isso um perfil-tipo. As abordagens à Internet fazem-se em consonância com a idade, o sexo, o ter ou não acesso em casa, na escola, a prática, entre outros condicionantes. - O acesso faz-se sobretudo a partir de casa, e mais de uma hora por dia; na escola só para casos específicos e em horas estabelecidas; - Os jovens veem a Internet mais como uma evolução do que como uma revolução, olham-na como uma excelente ferramenta mas com limites, e usam-na sobretudo como um instrumento de diversão. - A Internet é comparada a uma mega biblioteca, pelo que os jovens acreditam na credibilidade e fiabilidade da informação. No entanto, mostram-se desconfiados no que respeita ao comércio eletrónico. - Os jovens desejam ainda uma maior presença da Internet na Escola, mas acrescentam que este instrumento não irá substituir nem a escola, nem o professor. - A Internet não é comparada por eles com a informática, considerando que esta última é mais difícil de aprender. - Os jovens gostam de utilizar a Internet sem a presença dos pais; permitindo eventualmente a presença de amigos e/ou irmãos. Sendo uma prática individual, não consideram estar sozinhos. - No imenso mundo da Internet, a tendência dos jovens é para tecer, contudo, pequenas “teias pessoais”. Dados concretos da realidade portuguesa Um estudo recente do projeto europeu EU Kids Online, cujo trabalho de campo foi efetuado em 2010, revela que 49% das crianças portuguesas, entre os 11 e os 16 anos, faz um uso excessivo da Internet (enquanto a média europeia é de 30%); 78% entre os 9 e os 16 anos usam a Internet, mais a partir dos seus quartos (67%) do que de outros lugares da casa (26%). Esta diferença é mais acentuada do que a média europeia (respetivamente 48% e 37%). Apenas 7% das crianças e jovens declaram ter visto imagens sexuais em sites, e apenas 4% dos pais acha que os filhos já as encontraram. Entre as crianças e jovens que viram imagens sexuais, uma em quatro declara ter ficado incomodada com isso; o risco de bullying online foi referido apenas por 2% das crianças e jovens, sendo menor do que o ocorrido presencialmente (8%), e ambos estão abaixo da média europeia (respetivamente 5 e 17%); quatro por cento respondeu já ter ido a encontros com pessoas que conheceu online e 15 por cento diz manter contactos com essas pessoas, número este abaixo da média europeia. Cinquenta e oito por cento das crianças e jovens têm um perfil numa rede social. Destas, 34% tem até dez contactos e 25% até 50. Entre os jovens utilizadores de redes sociais, 25% tem o perfil público, enquanto 7% partilha a morada ou número de telefone (estão entre os que menos o fazem em comparação com as crianças europeias). O estudo concluiu também que as crianças estão a aceder à Internet cada vez mais cedo, tendo sido observado que os mais novos têm maior dificuldade em lidar com conteúdos perturbadores. Internet e educação José Manuel Tornero destaca, em “O futuro da sociedade digital” a importância da TIC em geral e da Internet em particular na Educação, comparando-a “a uma espécie de escola universal que aproxima qualquer lugar dos recursos do conhecimento” e a “um veículo perfeito para relacionar entre si os aprendizes”. Segundo este autor, também o e-learning, via Internet, vem revolucionar as formas de aprendizagem, tal como a presença de meios telemáticos nas escolas. A Internet pode ainda auxiliar professores, ao ligá-los entre si em rede dentro da Rede. No entanto, e como não há bela sem senão, há que ter em conta aspetos que poderão tornar-se negativos, como a não-vigilância do uso da Internet, as fontes pouco rigorosas, a saturação da informação, o perigo de vir a substituir o verdadeiro ensino e esforço de aprendizagem, e a privação de sentido do ato criativo. Em Portugal: alguns dados (UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento) - Todas as escolas públicas do ensino básico e secundário ficaram ligadas à Internet em banda larga em Janeiro de 2006. Em 2009, 93% das escolas com 2º e 3º ciclos do ensino básico e com ensino secundário estavam ligadas a, pelo menos, 64 Mbps. - Desde 2007, programas destinados a massificar a aquisição de computadores portáteis para alunos do ensino básico e secundário (e.escolinhas, e.escolas), professores (e.professores) e alunos do Programa Novas Oportunidades (e.oportunidades) asseguraram o fornecimento de 1,1 milhão de computadores portáteis. - Para alunos do 1º ciclo do ensino básico, o programa e.escolinhas disponibilizou massivamente o Computador Magalhães, designadamente a 80% dos alunos. - Em Agosto de 2007 foi aprovado o Plano Tecnológico da Educação, que envolveu uma profunda modernização das escolas com a criação de redes de comunicação. - O número de alunos do ensino básico e secundário por computador com acesso à Internet passou (do ano letivo 2004/2005 para 2007/2008), de 16 para 9. Texto: Palmira Simões / Imagem: MyMagalhaes Fontes - Estudo A Sociedade da Informação em Portugal – Maio 2010, UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). - Investigação europeia EU Kids Online, realizada pela The London School Of Economics and Political Science, Reino Unido, 2010, coordenada pela professora Sonia Livingstone. - “Ecrãs em Mudança”, Abrantes, José Carlos (coordenação), 2006. - “Comunicação e Educação na Sociedade de Informação, epílogo “O futuro da sociedade digital e os novos valores da educação para os Media”, Tornero, José Manuel Pérez, 2000. Nas últimas décadas, e a par com um aumento da utilização das tecnologias de informação e comunicação, tem-se verificado um grande desenvolvimento dos videojogos, sendo cada vez mais usados, tanto em contextos informais como educativos. Texto: Palmira Simões  O seu uso nem sempre reuniu consenso entre os seus defensores e objectores, embora ultimamente as divergências se tenham tornado menos acentuadas, dado o contributo, impossível de ignorar, para o “enriquecimento dos contextos de aprendizagem para a infância”, diz a professora e investigadora Lúcia Amante. A realidade é que, e segundo autores como T. Gomes & A. Carvalho, as escolas encontram-se perante uma nova geração de alunos – a Geração Net ou Digital – com necessidades educativas diferentes e com uma forma igualmente distinta de organizar e aceder à informação, tendo por isso criado novas habilidades cognitivas. Para outro autor, H. Magalhães, pesquisas demonstram que quando postos em frente de um computador, os tempos de atenção dos Nativos Digitais não são tão curtos como quando lhes é proposto um método de ensino tradicional. Isto porque as crianças da actualidade, pela sua experiência com as novas tecnologias, anseiam pela interactividade que impulsiona as suas acções, como refere o investigador Marc Prensky. Já para a investigadora Begonia. Gros, a cultura informática e de simulação que se evidencia nos videojogos constitui uma aprendizagem que deve ser reconhecida no âmbito escolar pela sua importância, quer ao nível do aproveitamento de experiências e conhecimentos que os alunos adquirem com o manuseamento dos videojogos mas que, só por si, não é garante de aprendizagem, quer do ponto de vista social. Gros considera por isso necessário que a escola assegure uma alfabetização informática adequada, insistindo que o modelo pedagógico que deve acompanhar o uso dos videojogos deve centrar-se na formalização e na reflexão das estratégias e conteúdos utilizados nos mesmos, ao mesmo tempo que defende que o professor deve aproveitar a riqueza desta ferramenta da qual os alunos gostam, que os motiva e que eles sabem utilizar. A relação entre a tecnologia e a educação tem vindo a ser muito estudada, desde o nível pré-escolar. Entre as áreas objecto de estudo encontra-se a linguagem e a literacia. Investigações concluíram que o computador não inibe o desenvolvimento da linguagem, antes pelo contrário, ao estimular o seu uso em programas que instigam a criança à fantasia, como defendem os autores Clements & Nastasi; ao encorajar a produção de discurso mais complexo e fluente (Davidson&Wright); ao induzir a comunicação verbal e a colaboração entre as crianças (Crook, e Drogas); ao exortar a vocalização em crianças com perturbações da fala (McCormick). Outra área alvo de investigação é a linguagem escrita. Também aqui, estudos de Lúcia Amante e de Laboo&Ash têm revelado que o computador, por exemplo através de programas de processamento de texto, proporciona oportunidades de desenvolvimento da literacia em geral e da escrita em particular, nomeadamente no que concerne a conceitos como direcionalidade e sequencialidade. Experiências pessoais com crianças em idade escolar (Ensino Básico) têm-me inclusive demonstrado que as Redes Sociais, desde que utilizadas com parcimónia e apoio por parte do adulto, não só constituem uma forma de socialização da criança com outras pessoas, como familiares, amigos e não só (vantagem a considerar, segundo Shields & Behrman) como são potenciadoras do desenvolvimento da linguagem escrita. Se juntarmos as Redes Sociais a programas (como os gráficos/desenho) que as crianças usam como ferramenta para realização de atividades online (interativas), outras capacidades estão a ser desenvolvidas, não só ao nível da criatividade, como da resolução de problemas, como da aprendizagem de conceitos matemáticos. O que vem no seguimento da teoria de Clements & Nastasi, que defende que as crianças que têm possibilidade de associar experiências manipulativas directas à utilização de um programa de computador demonstram maior competência em operações de classificação e pensamento lógico, a que se junta o favorecimento de conceitos relacionados com o pensamento geométrico e espacial, como simetria, padrões, organização espacial, etc. (Clements & Swaminthan), já para não falar do desenvolvimento de aptidões a nível óculo-motor. Terceira área educacional à qual as TIC têm vindo a dar o seu contributo é a do Conhecimento do Mundo. Segundo vários autores (Haugland e Wright; Grácio; e Rada), a tecnologia informática, designadamente a Internet, propicia a educadores e crianças oportunidades únicas de acesso a pessoas, imagens, sons e informação diversificada que podem constituir-se como fortes recursos educacionais. Por último, e para que as TIC sejam efectivamente eficazes em ambientes educativos, promovendo aprendizagens mais ricas e construtivistas, há que ter em consideração que a tecnologia deve ser posta ao serviço da construção ativa de conhecimento, como diz Coll; deve proporcionar uma “aprendizagem significativa” (Jonassen), que estabeleça relação entre as novas experiências e os conhecimentos prévios; deve considerar a importância dos contextos sociais de interacção (Coll e Crook). Isto significa, e tal como referenciam especialistas nesta matéria, que devem ter-se em conta factores importantes como: localização e acesso aos equipamentos (Papert; Susan Haugland; Haugland & Wright); as aplicações educativas em si, que devem ser abertas, amigáveis ou intuitivas, multisensoriais, atraentes e interativas, flexíveis, atribuam à criança um papel ativo, orientadas para a resolução de problemas, facilitem e promovam a cooperação e a comunicação, estabeleçam relação com a vida real, valorizem a diversidade étnica, cultural, de género, etc. (Davis & Shade; Haugland & Wright; Ramos); e a integração nas atividades curriculares, pondo as TIC ao serviço do desenvolvimento intelectual das crianças (Pierce), ou seja, permitindo expandir, enriquecer, diferenciar, individualizar e implementar a globalidade dos objetivos curriculares. Outros fatores essenciais para o sucesso das TIC em contexto educativo: a crucialidade da formação dos educadores/professores, defendida por vários autores como Clements, Haugland ou Kasakowski; a atitude favorável à mudança da Escola/liderança na medida em que deve facilitar a integração (Perrenoud; Han; Haugland; e Kasakowski); a ligação com a família, levando-a a participar mais na vida escolar das crianças e promovendo a aproximação família/escola (Cotrim; Thouvenelle; Van Scoter & Boss; Van Scoter et al); e uma assistência técnica eficaz que assegure o bom funcionamento dos equipamentos. Para saber mais - Amante, L. (2007). As TIC na Escola e no Jardim de Infância: motivos e factores para a sua integração. Sísifo. Revista de Ciências da Educação, 03, pp. 51 64. Disponível em http://sisifo.fpce.ul.pt/ - Gomes, T. & Carvalho, A. (2008). Jogos como ferramenta educativa: de que forma os jogos online podem trazer contribuições para a aprendizagem. Actas da Conferência ZON Digital Games 2008. - Gros, B. (2002). Videojuegos y alfabetización digital. Disponível em http://diegolevis.com.ar/secciones/Infoteca/videojuegos_Gros1.pdf. - Magalhães, H. (2009). A Criança e os Videojogos: estudo de caso com alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. Tese de mestrado, Universidade do Minho. Disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/9543 |
|
 Feed RSS
Feed RSS
